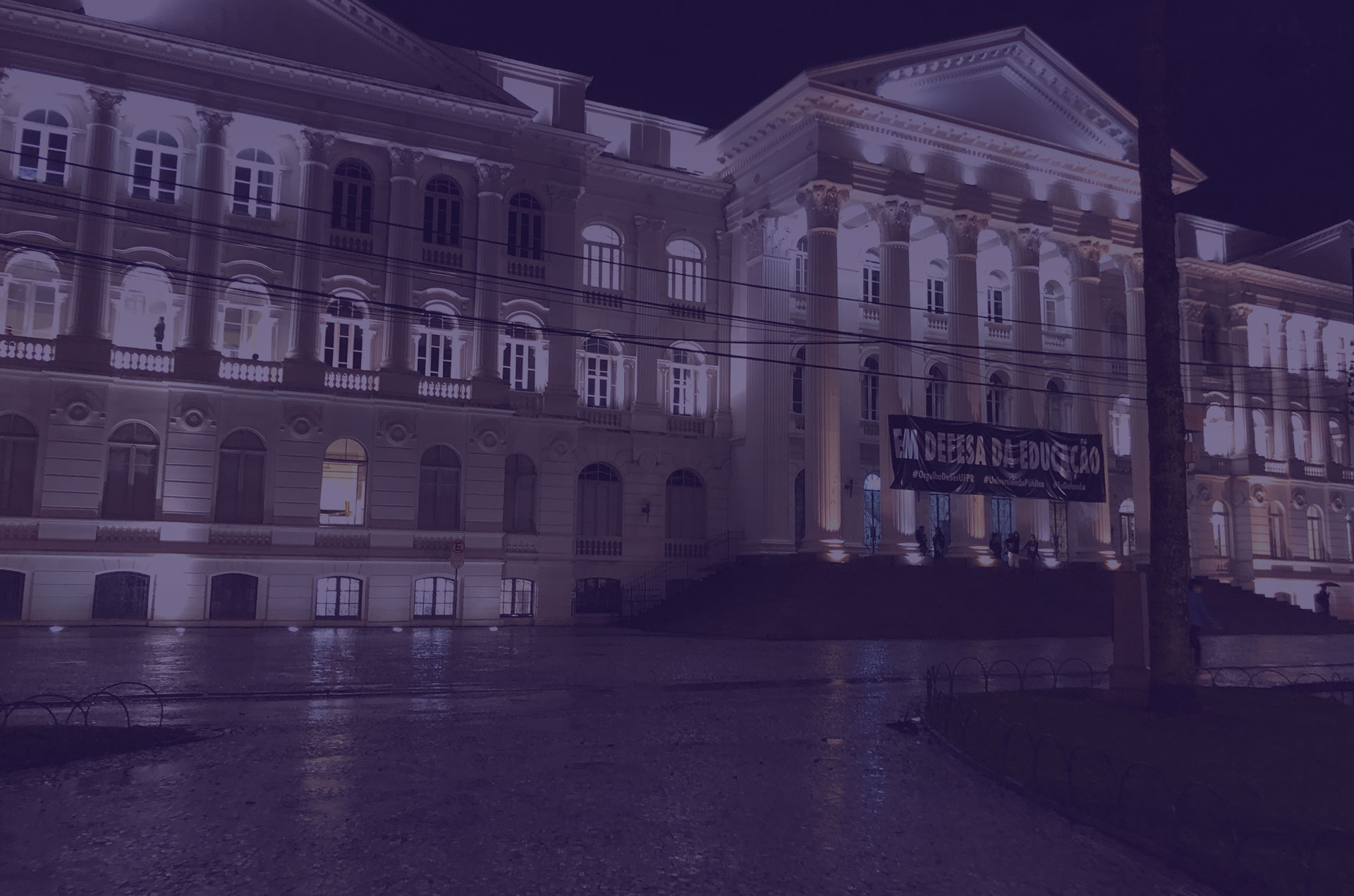A OAB e o controle externo do TCU
Julgamento no STF envolve manutenção da independência da OAB como voz da sociedade na defesa do Estado Democrático de Direito
Por MARILENA INDIRA WINTER e RODRIGO LUÍS KANAYAMA
O nascimento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não foi por acaso, nem foi por vontade oficial (embora tenha sido criada por lei[1]). Partiu de um movimento de juristas que, imbuídos pelo ideal da advocacia, se organizaram para a sua criação. Na década de 1930, nascia a OAB, capitaneada pelo advogado Levi Carneiro, que ocupou cargos no Instituto dos Advogados Brasileiros e da Ordem dos Advogados do Brasil, onde foi seu primeiro presidente.
A despeito de previsão legal, a Ordem não é fruto estatal. Por essa razão, desde o início agiu contra cerceamento a liberdades individuais e foi entidade independente do Estado. Não depende do Estado para seu sustento, para obtenção de suas receitas, para atuação perante o Poder Público e em favor dos direitos. A liberdade e a defesa dos direitos são suas bandeiras inegociáveis e é por isso que o julgamento que se avizinha no Supremo Tribunal Federal (STF) é tão relevante.
O STF começou a julgar o Tema 1054 (“controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União” – RE 1.182.189, Rel. Min. Marco Aurélio). A questão, que não é nova (foi aventada no julgamento da ADI 3026), é de suma relevância para traçar os rumos da mais importante organização civil do Brasil.
O ministro Lewandowski pediu destaque no julgamento do plenário virtual sobre a submissão ou não da OAB à fiscalização do TCU. Marco Aurélio votou e foi favorável à necessidade de fiscalização das contas da entidade. O ministro Edson Fachin inaugurou a divergência: para ele, a OAB não está obrigada a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa. O julgamento continuará no plenário físico.
A posição que ocupa a OAB no texto constitucional é singular. É a única entidade civil que participa de concursos públicos (Magistratura – art. 93, I; Ministério Público – art. 129, §3º; Advocacia Pública – art. 132). A OAB é legitimada para propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade (art. 103, VII); indica membros para o Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, XII) e para o Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, V); escolhe membros de tribunais (art. 94).
Por fim, importante destacar que a advocacia, que ela representa, é a única função não exclusivamente estatal da estrutura do sistema de Justiça brasileiro: “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (art. 133).
Não se trata de autarquia de fiscalização profissional (conselhos profissionais) nos moldes adotados por outras profissões, como a medicina e engenharia. Essas estão sob o controle externo do TCU, recebem tributos (taxas) estabelecidos por lei, realizam concurso público e processos licitatórios. A OAB funciona como entidade privada no manejo de sua estrutura: estabelece suas anuidades, contrata pelo regime trabalhista e não está limitada por processos licitatórios públicos.
A posição da OAB a partir da Constituição é clara: procurou o constituinte dar-lhe independência no seu funcionamento e nas suas escolhas, não estando sob os limites estatais de controle externo, nada obstante sujeite-se a regras de gestão, transparência e controle interno, a exemplo do Provimento 185/2018 do Conselho Federal.
O fim é evidente: serve a OAB como um sustentáculo civil às normas constitucionais; serve como um contraponto ao Poder Público expressando vozes de cidadãos comuns; não defende só a classe da advocacia, mas a sociedade por inteiro, a teor do disposto expressamente no art. 44, I da Lei 8.906/1994. Diferencia-se, claramente, das demais autarquias e conselhos profissionais, que têm como fim delimitado a regulação e controle de determinada classe profissional; e também se diferencia das associações e sindicatos, os quais são igualmente voltados para apenas uma fatia da sociedade.
No passado, o STF já se debruçou sobre a questão. Em 2006, na ADI 3026, sob relatoria do Ministro Eros Grau, entendeu o STF que “por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça (…)”. [2]
Aliás, o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) prevê que a “Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade (…) defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” (inciso I, art. 44).
Por outro lado, dentre as competência constitucionais atribuídas ao Tribunal de Contas da União (TCU) não se encontra nenhuma que albergue a fiscalização das contas da OAB, haja vista que seus recursos não são provenientes dos cofres públicos. Diferentemente de outras carreiras integrantes do sistema de Justiça, que muito embora sejam também essencias à sua administração, e às quais também são asseguradas independência e autonomia para exercer suas funções, são integralmente remuneradas e suas estruturas mantidas com recursos totalmente provenientes dos cofres públicos.
Resta salientar que a OAB estabeleceu diversas normas de transparência e responsabilidade orçamentária, preocupada com a necessidade de expor suas decisões, suas receitas e despesas, e seus investimentos. Não é porque não está sujeita a controle externo do TCU que não será accountable perante à advocacia e à sociedade.
A manutenção da independência da OAB como voz da sociedade na defesa do Estado Democrático de Direito, muitas vezes a voz mais crítica, por sua independência, necessariamente toca no julgado do Tema 1054 do STF. O controle externo por um órgão do Estado (o TCU) adicionará ingrediente arriscado na receita democrática da Constituição da República. A OAB mantém o equilíbrio de forças entre Poder Público e sociedade civil e um julgamento que a alije da independência vergará o já combalido equilíbrio da nossa democracia.
[1] O Decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, previu: “Art. 17. Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos Institutos dos Estados, e aprovados pelo Governo”.
[2] Podemos citar mais dois julgados do STF:
(1) Em 2016, no Recurso Extraordinário 595.332 PR o Ministro Marco Aurélio compreendeu a OAB como “autarquia corporativista”, e por essa razão a competência para julgar processos judiciais será da Justiça Federal. Nesse julgamento, destaca-se o voto do Ministro Roberto Barroso:
“Eu acho que a Ordem tem uma posição muito singular. Eu acho que ela presta um serviço público, mas tenho dúvida se ela pode ser tipificada como uma entidade estatal, até pelo tipo de independência que precisa ter e porque acho que ela não é obrigada a fazer concurso público, o que seria uma consequência natural, se eu a considerasse uma pessoa jurídica de direito público.
Desse modo, eu gostaria de ressalvar algumas dúvidas quanto à natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Porém, não tenho nenhuma dúvida de que é pacífico o entendimento de que a competência é da Justiça Federal. Portanto, eu estou acompanhando o Ministro Marco Aurélio, apenas me reservando para, em algum lugar do futuro, se vier a ser oportuno, tentar refletir sobre esta natureza singular da OAB.”
(2) No Recurso Extraordinário 405.267, sob relatoria do Ministro Fachin, assim julgou o STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO NO TRIBUNAL PLENO PELA SEGUNDA TURMA. ARTIGOS 11, I, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 22, PARÁGRAFO ÚNICO, “B”, AMBOS DO RISTF. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. 1. A questão referente à imunidade aplicável às entidades assistenciais (CF, 150, VI, “c”) é impassível de cognição na via do recurso extraordinário, quando não há apreciação pelas instâncias ordinárias, nem foram interpostos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. É pacífico o entendimento de que a imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (CF, 150, VI, “a”), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta, tal como as autarquias, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da Administração Pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJ 29.09.2006. 4. Na esteira da jurisprudência do STF, considera-se que a Ordem dos Advogados possui finalidades institucionais e corporativas, além disso ambas devem receber o mesmo tratamento de direito público. 5. As Caixas de Assistências dos Advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. 6. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, do Texto Constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei. 7. Recurso extraordinário parcialmente conhecido a que se nega provimento”(RE 405267, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2018).
MARILENA INDIRA WINTER – Vice-Presidente da OAB/PR, Doutora em Direito das Relações Sociais pela UFPR, Pro-fessora de Direito Civil da PUC/PR, Procuradora do Município de Curitiba.
RODRIGO LUÍS KANAYAMA – membro do Centro de Estudos da Constituição (CCONS/UFPR) e do Núcleo de Direito e Política (DIRPOL/UFPR). Na Faculdade de Direito da UFPR, é Professor Adjunto de Direito Financeiro e Chefe do Departamento de Direito Público. É Conselheiro Estadual da OAB/PR, onde também preside a Comissão de Estudos Constitucionais, e sócio da Kanayama Advocacia em Curitiba.
Originalmente publicado em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/oab-controle-externo-tcu-11102020