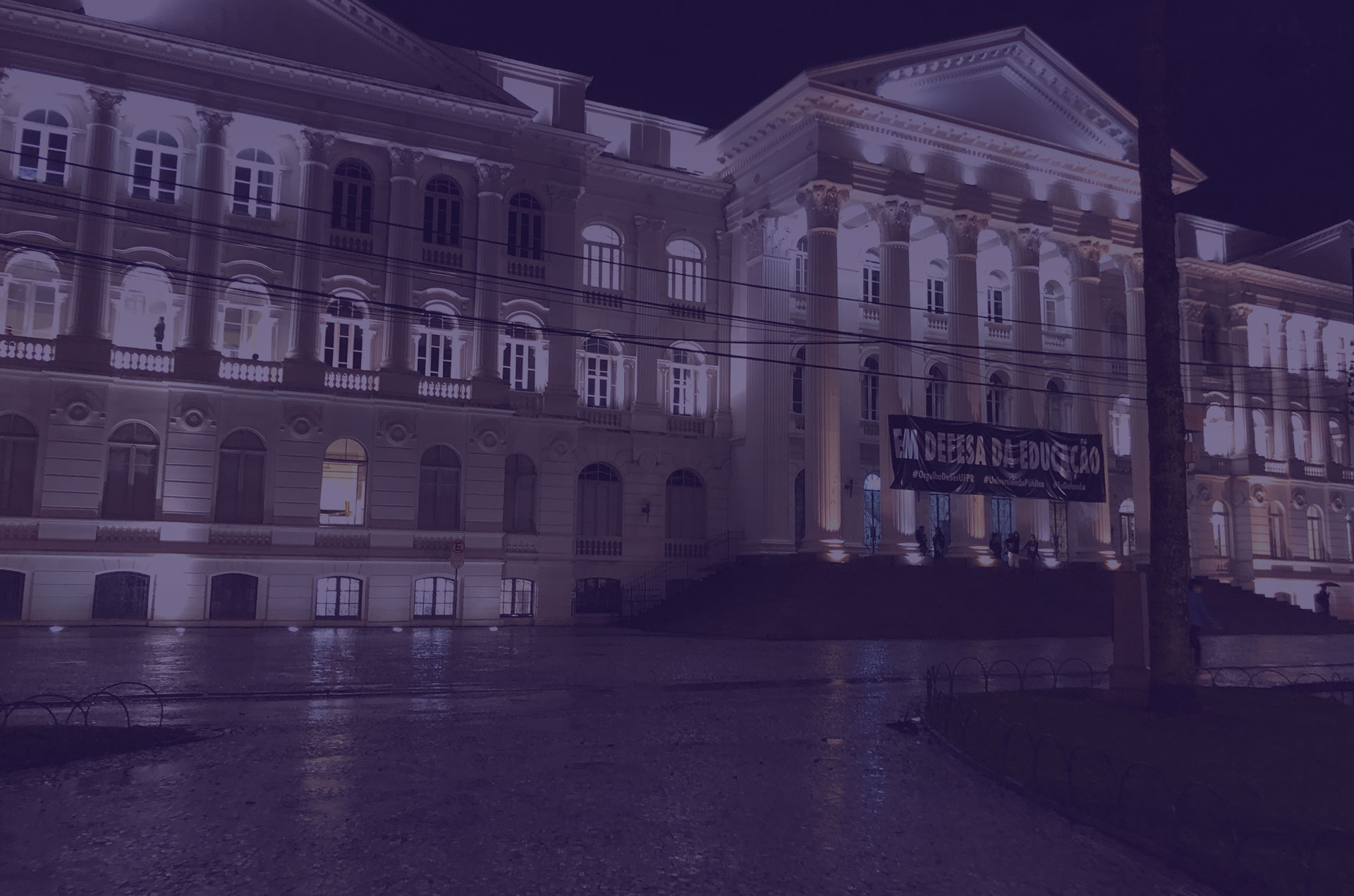Auxílio emergencial: existem vidas que pouco importam?
Por Inês Virgínia Prado Soares e Melina Girardi Fachin
Durante esta grave crise sanitária causada pela Covid-19, os governos federal, estaduais e municipais têm criado medidas e mecanismos como respostas para minimizar ou reduzir as violações de direitos. No entanto, algumas ações não são acessíveis para as pessoas hipervulneráveis, aquelas que, por diferentes razões, têm chances baixíssimas de acesso a instituições ou ferramentas para resguardar seus direitos básicos, e tampouco conseguem enfrentar as eventuais violações a esses direitos.
A vulnerabilidade e o aumento das desigualdades têm atraído especial atenção dos principais órgãos de defesa dos direitos humanos neste momento. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu, em 10 de abril, a Resolução 01/2020, intitulada Pandemia e Direitos Humanos nas Américas, na qual apresenta um conjunto de medidas e abordagens para o enfrentamento da Covid-19 pelos países latino-americanos. Entre as 85 recomendações da Resolução 01/2020, as de número 39 e 40 tratam de grupos de especial vulnerabilidade, indicando que os Estados-membros devem:
“39 — Considerar abordagens diferenciadas ao tomar medidas necessárias para garantir os direitos dos grupos em uma situação de especial vulnerabilidade, adotando medidas de cuidado, tratamento e contenção para a pandemia da Covid-19; bem como mitigar os impactos diferenciados que tais medidas podem gerar.
40 — Promover, pelas mais altas autoridades, a eliminação de estigmas e estereótipos negativos que podem surgir em certos grupos de pessoas no contexto de pandemia.
As recomendações supracitadas têm o mérito de recusar um modelo de atuação que reforce desigualdades e ainda inspiram os gestores locais ao falarem da possibilidade das políticas públicas da Covid-19 de serem desenhadas e implementadas longe da lógica de desigualdade estrutural que, quase sempre, permeia o sistema em tempos de normalidade.
Na tentativa de dar atenção à linha recomendada pela CIDH de conter uma das consequências provocadas pela crise da Covid-19, e dar resposta efetiva aos grupos mais atingidos, sancionou-se a Lei 13982/2020, que estruturou o programa de renda básica emergencial, consistente num auxílio financeiro pago pelo governo federal em três parcelas para sobrevivência no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia.
A iniciativa vai parcialmente ao encontro do preconizado pelas Nações Unidas, que, na voz de seu especialista independente, Juan Pablo Bohoslavsky, clamou que a melhor maneira de lidar com os efeitos econômicos da catástrofe é colocar as finanças a serviço dos direitos humanos com a adoção de programas de renda básica universal de emergência. Diversos países seguiram nessa esteira de assistência aos trabalhadores neste momento de pandemia, inclusive aos informais — Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Austrália, França, Espanha, Itália, Portugal, entre outros, com suporte financeiro maior do que o concedido pelo governo brasileiro.
De acordo com dados disponibilizados pelo governo, quase 100 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial, mais de 30 milhões o tiveram negado por não cumprir as suas condições e, segundo dados da Caixa, o site do auxílio emergencial recebeu quase 300 milhões de visitas e o aplicativo foi baixado cerca de 60 milhões de vezes. Os números saltam aos olhos e chamaram a atenção inclusive dos idealizadores do programa. Um contingente populacional invisível — que não possui conta em banco, não tem acesso regular à internet e não tem documentos de identificação — veio à luz.
O Decreto nº 10.316/2020 instrumentalizou a percepção do benefício previsto na Lei nº 13.982/2020 e estabeleceu, em seu artigo 5º, que para ter acesso ao auxílio emergencial o trabalhador deverá: “I — estar inscrito no Cadastro Único até 20 de março de 2020; ou II — preencher o formulário disponibilizado na plataforma digital, com autodeclaração que contenha as informações necessárias”. Em casos excepcionais e a depender da disponibilidade dos funcionários da Caixa, apenas para as pessoas que não tenham acesso à internet será possível fazer o registro em agências. Mesmo nessa situação, é preciso a inclusão dos dados na plataforma digital.
Portaria do Ministério da Cidadania indicou a Dataprev como agente operadora do auxílio emergencial e a Caixa Econômica Federal foi a instituição escolhida para efetuar o pagamento do benefício, disponibilizando a opções de cadastro no site ou o uso do aplicativo. As duas alternativas exigem que as pessoas tenham acesso a aparelhos celulares, pois a partir de um determinado momento receberão mensagens de SMS com códigos para completar as etapas de preenchimento do cadastro.
Em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública da União (DPU) no início de maio, demonstrou-se que é preciso cumprir 23 passos, em ambiente digital, para o cadastramento para recebimento do auxílio. O argumento da DPU nessa ação é que pessoas em situação de extrema pobreza, migrantes, refugiados, integrantes de povos indígenas e de comunidades quilombolas, por exemplo, são também pessoas em situação de exclusão digital.
Por não terem acesso aos recursos digitais, precisam de um atendimento presencial para receberem ajuda de alguém que lhes traduza as exigências digitais, ou mesmo que lhes disponibilizem o número de celular para recebimento dos códigos. A DPU pediu que a União e a Caixa não obriguem os beneficiários a apresentar número de celular e e-mail para o saque das parcelas de R$ 600 na pandemia, bem como que apresentem uma alternativa, que chamamos aqui de “análogica”.
As enormes filas nas agências da Caixa Econômica e nas casas lotéricas, portanto, devem-se, em grande parte, à exclusão digital dos hipervulneráveis e à falta de alternativa para obtenção de ajuda para preenchimento no formulário digital, a não ser o deslocamento para o local de saque.
A corrida ao benefício transitório mostrou que há milhões de invisíveis que seguem amontoadas em filas, inconvenientemente aglomeradas, dormindo nas calçadas nas proximidades das agências bancárias e casas lotéricas.
A imagem das pessoas se colocando em risco e a percepção de que não se terá uma solução rápida para os que não se enquadram no formato pensado para execução do programa trazem o questionamento sobre a razão de não se contemplar todo o universo de vulneráveis, com suas peculiaridades.
É possível considerar que isso não foi feito de modo aleatório, mas, sim, fruto de uma determinada concepção de sociedade, que convive com imensa dificuldade com os mais vulneráveis (tanto fisicamente como também nos aspectos social, cultural ou econômico) A filósofa americana Judith Butler, em recente entrevista a Juan Dominguez e Rafael Zen, ao trazer sua visão sobre a quarentena, também expressou inquietação semelhante sobre o cenário dos Estados Unidos:
“Porém, me pergunto se não seria mais importante considerarmos como as políticas sociais são armadas e aplicadas de maneira a se configurar como a morte das populações marginalizadas, especialmente das comunidades indígenas e das populações carcerárias, e também daqueles que, como resultado de políticas públicas racistas, nunca tiveram um tratamento de saúde adequado. Afinal, a taxa de mortes nos Estados Unidos neste momento está diretamente correlacionada à pobreza e à privação de direitos das populações negras”.
O cenário brasileiro não é muito diferente do americano indicado por Butler no que diz respeito ao acesso às múltiplas formas de cuidado aos mais vulneráveis. Aliás, pelo que se tem noticiado, o panorama é bem semelhante no plano mundial, ainda que em razão de peculiaridades regionais os países mais pobres ou com maior desigualdade sejam atingidos de maneira mais severa pela pandemia.
A invisibilidade de alguns grupos sociais por certo não é temática nova para a comunidade internacional, nem chega com a Covid-19. As privações que a pobreza causa no acesso aos demais direitos se traduzem em um dos recortes do cenário das hipervulnerabilidades. Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou e publicou, pela Resolução 21/11, os Princípios Reitores sobre Pobreza Extrema e Direitos Humanos (PREPDH). Os seus princípios partem que a pobreza é um problema de direitos humanos:
“4 — As pessoas que vivem na pobreza encontram enormes obstáculos, de natureza física, econômica, cultural e social, para exercerem os seus direitos. Como consequência, sofrem muitas privações que se relacionam entre si e se reforçam mutuamente, — como as condições perigosas de trabalho, a insalubridade da moradia, a falta de alimentos nutritivos, o acesso desigual à Justiça, a falta de poder político e o acesso limitado à atenção de saúde —, que os impedem de tornar realidade os seus direitos e perpetuam sua pobreza. As pessoas submetidas à pobreza extrema vivem em um círculo vicioso de impotência, estigmatização, discriminação, exclusão e privação material, que se alimentam mutuamente”
Isso se agrava com outros recortes que muitas vezes se somam à questão da renda, gerando fenômenos de discriminações sobrepostas como a racialização ou a generificação da pobreza. No dizer da relatora especial sobre Pobreza Extrema e Direitos Humanos:
“Isto é, o fato de que, geralmente, as pessoas que se encontram em condições de pobreza coincidentemente possam pertencer a outros setores vulneráveis (mulheres, crianças, pessoas com deficiência, indígenas, afrodescendentes, idosos etc.) não exclui a possibilidade de que as pessoas em situação de pobreza não se vinculem a outra categoria”.
Foi exatamente numa condenação do Brasil, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) usou, pela primeira vez, o fundamento da pobreza como um componente autônomo da proibição de discriminação por “posição econômica”. No voto fundamentado do juiz Eduardo Ferrer MacGregor Poisot [1], no julgamento do mencionado caso, foi destacado que:
“44 — Como podemos observar, na jurisprudência interamericana a posição econômica (pobreza ou condição econômica) esteve vinculada de três maneiras distintas: em primeiro lugar, pobreza ou condição econômica associada a grupos de vulnerabilidade tradicionalmente identificados (crianças, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, migrantes etc.); em segundo lugar, pobreza ou condição econômica analisada como uma discriminação múltipla/composta ou interseccional com outras categorias; e, em terceiro lugar, pobreza ou condição econômica analisada de maneira isolada, dadas a circunstâncias do caso, sem vinculá-la a outra categoria de proteção especial”.
Discussões mais recentes no âmbito das Nações Unidas aliam a perspectiva da hipervulnerabilidade de classe com o recorte da exclusão digital. No informe do relator especial Philip Alston, aprovado pela ONU em outubro de 2019, surgem o estado de bem-estar digital e as ameaças deste sob a perspectiva dos direitos humanos, destacando as vantagens da inclusão digital e também a desigualdade no acesso às tecnologias da informação:
“45 — A falta de alfabetização digital leva a uma total incapacidade de usar ferramentas digitais básicas, e muito menos usá-las de maneira eficaz e eficiente. O acesso limitado ou inexistente à internet coloca enormes problemas para muitas, muitas pessoas, e as pessoas que acessam a internet envolvem pagar preços altos, viajar longas distâncias ou tirar folga do trabalho, visitar instalações públicas como bibliotecas ou obter ajuda de funcionários ou amigos para gerenciar os sistemas. Além disso, embora pessoas com recursos possam obter acesso instantâneo a computadores e outros softwares modernos e fáceis de usar, além de velocidades de banda larga rápidas e eficientes, pessoas com poucos recursos têm muito mais chances de serem severamente prejudicadas pelo uso de equipamentos desatualizados e conexões digitais lentas e não confiáveis”.
Os dados para produção do informe da ONU citado acima foram colhidos há cerca de dois anos, em um cenário de normalidade. Diante do quadro catastrófico, é possível considerar que a comunidade internacional enquadraria as pessoas em situação de extrema pobreza em nosso país, que não conseguem se cadastrar para receber o auxílio emergencial por não terem acesso às plataformas digitais, na proteção do prevista no artigo 1.1. da Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe qualquer forma de discriminação.
Ainda há possibilidade de ajuste da conduta estatal, com a oferta de ferramentas que permitam o cadastramento das pessoas hipervulneráveis. Se assim acontecer, os invisíveis, que até ontem frequentavam os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pelos municípios brasileiros, mas não tinham sua existência contabilizada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), passarão a ser um número e também clientes do sistema de seguridade social.
O desafio está posto. E a resposta precisa ser dada, ainda que esta não seja a realidade de quem escreve ou lê este artigo, ou mesmo dos idealizadores da política. Se há algo que a pandemia nos mostra é a necessidade de cooperação, solidariedade e alteridade pela responsabilidade que temos com as vidas alheias.
Todas as vidas importam.
Texto originalmente publicado em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-26/soares-fachin-auxilio-emergencial